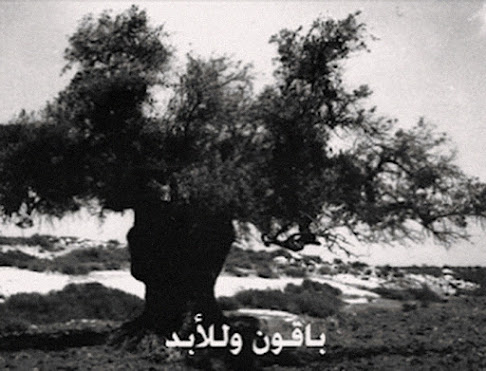__
Tornos
Uma escatologia Turístico-Patrimonial
Rui Gilman
Turismo e património são vulgarmente apresentados como
entidades confrontantes, o primeiro mais ligado à economia e ao lazer, o
segundo mais conotado com a cultura e a identidade. Aceita-se que os dois se
toquem apenas ligeira e ocasionalmente para criar sinergias. No entanto, a realidade é bem diferente. Turismo e
património não só estão intimamente ligados como operam em conjunto, segundo as
mesmas regras e princípios. O turismo condiciona, orienta e enforma o conceito
de património e as estratégias para sua conservação, classificação e
reabilitação, sendo ambos os fenómenos emanações duma lógica do capitalismo
globalizante e directamente ligados à aceleração do tempo.
Se, efectivamente, salvaguardamos o património movidos
pelo turismo, que diz isso sobre a validade dessa mesma conservação? O que
estaremos realmente a conservar? De que forma e qual a autenticidade do que
conservamos? Numa sociedade saturada pela atomização da imagem e pela
multiplicação virtual do real, qual o futuro da relação turismo-património?
“Olhos em todo lado. Nenhum ângulo morto.
Com que sonharemos quando tudo for visível?
Sonharemos estar cegos.” [1]
Jenny Holzer, Truisms, Money
creates taste, 1982. Times
Square, New York.
The economy, stupid.
Porto:
Melhor
destino europeu de 2012, segundo a European Consumers Choice.
18 Mil
passageiros de cruzeiros no mês de Setembro, igualando o total de 2009.
1 Milhão de
dormidas em 2004; 2,4 milhões de dormidas em 2013.
Aeroporto Sá
Carneiro passa de 2,4 a 6,7 milhões de passageiros, entre 2004 e 2013.
Cais da
Ribeira, uma das “31 ruas a percorrer antes morrer”, para Condé Naste Traveler.
Destino
gastronómico do ano em 2013 na Wine.
Edifício da
Alfândega, “melhor centro de conferências” da Europa em 2014.
Livraria Lello,
terceira melhor do mundo no Lonely Planet's Best in Travel 2011.
Yeatman Hotel, “Best Dining Experience” nos Condé Nast
Johansens 2015.
74 hotéis,
27 hostels e mais 1000 alojamentos sazonais ou permanentes para turistas.
1ºtrimestre
de 2014: metade dos fogos licenciados para reabilitação destinam-se ao sector
turístico.
Março de
2014: Presidente de Câmara eleito presidente da Associação de Turismo do Porto
e Norte.
Melhor
destino europeu 2014, segundo a European Consumers Choice.
No espaço de uma década de actividade económica residual,
o turismo passou a “motor económico” da cidade do Porto e é um exemplo
paradigmático do crescente peso do turismo na economia nacional, representando
actualmente 5,8% do PIB (quase o dobro da média europeia). Este crescimento
rápido e exponencial do turismo nas cidades, nomeadamente cidades históricas,
promove mudanças socioeconómicas profundas, levando a conflitos de interesse
entre população residente e população flutuante. Nem sempre muito divulgados e
vulgarmente abafados pela propaganda pró-turística, estes efeitos estão
sobejamente estudados e documentados: fenómenos de gentrificação com a “expulsão” de população residente provocada
pelo aumento vertiginoso do custo de vida (rendas, alimentação e outros bens
essenciais); substituição do pequeno comércio tradicional por comércio
especializado para turismo e/ou por grandes marcas internacionais; privatização
e mercantilização dos espaços públicos (comércio ambulante de souvenirs e
esplanadas a ocuparem os passeios, entradas pagas em monumentos e jardins);
criação de pedaços de cidade monotemáticos, complicações de trânsito;
apropriação turística de lojas tradicionais e franchisição das mesmas.
O recente documentário “Bye Bye Barcelona” explora estes
atritos e consequências do aumento de fluxo turístico: mostra o ciclo vicioso
criado pela indústria turística que quanto mais aumenta e mais zonas invade,
mais dependente vai tornando a cidade. Aborda, também, a promiscuidade entre os
poderes político e económico no âmbito do turismo.
Em cidades históricas, como Porto ou Barcelona, este
turismo aparece continuamente associado ao património - turismo cultural - que
os poderes político e económico, através dos media, vendem como um turismo diferente: um turismo “benigno”, mais
culto, que não só não modifica qualitativamente a identidade do local como o
ajuda a aprofundar esse mesmo sentido de identidade, valorizando-o quer a nível
material quer a nível imaterial.
Na verdade, o turismo cultural não passa duma
subsegmentação do turismo, seguindo os mesmos moldes economicistas. O
património é o recurso e o turismo cultural a sua forma de exploração. O valor
do património é mensurável pela sua capacidade de gerar receitas via turismo,
sendo estas posteriormente usadas para beneficio e conservação do mesmo, tendo
em vista a multiplicação do número de turistas. Estamos perante uma lógica
circular e autojustificada. A recente polémica sobre as taxas turísticas em
Lisboa demonstra este raciocínio: segundo a Câmara, o turismo teria causado “um
acréscimo de pressão no espaço urbano, nas infra-estruturas e equipamentos
públicos” que exigiria um reforço das operações de limpeza, segurança e
manutenção, “sob pena da excessiva ocupação/lotação e precoce degradação
colocar em causa a sustentabilidade do crescimento do destino turístico” [2]. As taxas não têm, assim, qualquer propósito
regulatório: o turismo é taxado para amenizar distúrbios causados pelo próprio
turismo, para permitir que haja mais turismo, para assim permitir que se
recolham mais taxas, para amenizar maiores distúrbios, para que haja mais
turismo, numa lógica circular, paradoxal, crescente e perpétua.
Barbara Kruger, Untitled (Your
Fictions Become History), 1983
Détournement
Situacionista, Sociedade do espectáculo,
1973.
De conhecimento a produto
Este género de raciocínio, exemplificado pelo caso das
taxas turísticas em Lisboa, inclui-se numa doutrina fetichista patrimonial
patrocinada e “simbolizada pela política de industrialização da UNESCO, com a
sua Convenção do Património Mundial e a rotulagem dos bens culturais à escala
mundial” convertendo “as nossas heranças culturais em produtos de consumo
mercantil.” [3]. Turismo e património aparecem assim fundidos,
indestrinçáveis. Renunciar a um é abdicar do outro.
Para compreender o presente e vislumbrar o
futuro da relação turismo-património necessitamos de recuar ao passado.
Analisar a evolução dos sucessivos conceitos de turismo e de património é
analisarmos a construção, desenvolvimento e mudança da identidade ocidental e
as suas relações com a temporalidade e com o espaço. Cruzando as cronologias de
turismo e património detecta-se uma evolução paralela em ciclos temporais
sucessivos cada vez mais curtos, aumentando em cada um o âmbito e alcance do
seu próprio significado, ao mesmo tempo que se cruzam com noções de tempo,
espaço, liberdade ou democracia. Podemos dividi-los em cinco ciclos.
Civilização da Imagem: Século XV – Século XVIII
A primeira noção de património nasce do
aparecimento do conceito “do monumento histórico, sob a designação de
antiguidades” na Itália do século XV [4].
Este transforma a visão ocidental, promovendo uma atitude reflexiva sobre o
passado à luz da história, do conhecimento e do gosto, rompendo com o teocentrismo
medieval. Desta mudança de paradigma nasce o Grand Tour, em meados do século XVII, e com ele o turismo moderno.
Podendo levar entre meses a anos, o Grand
Tour, quase um rito de passagem, consistia numa viagem que jovens nobres e
da alta burguesia do norte da Europa faziam pelo velho continente, acompanhados
de guias ou tutores, a fim de tomar contacto com o legado cultural clássico.
Nasce assim uma nova forma de viagem, de carácter individualista, motivada pelo
prazer e pelo conhecimento, e que rompe com a tradição medieval de viagem: a
peregrinação religiosa.
Industrialização: Século XIX – Século XX anos 30
Um segundo ciclo de aceleração e desenvolvimento surge
com advento da Revolução Industrial. Esta produz alterações e destruições que
levam à substituição do conceito de antiguidades pelo de “monumentos
históricos”, uma protecção de tipo museológico devido ao seu interesse para a
Arte e a História. O monumento é assim, dotado de “um diferente estatuto
temporal” passando “a um objecto de culto (...) dotado de (...) um papel memorial
impreciso (...), símbolo de uma era perdida pelo avanço da técnica” [5]. Simultaneamente, a Revolução Industrial massifica o uso
do comboio e do barco a vapor, popularizando primeiro e extinguindo depois o Grand Tour, substituído por viagens de
lazer mais próximas do turismo contemporâneo. Em 1841, Thomas Cook cria a
primeira agência de viagens, inaugurando a era das viagens organizadas e dos
pacotes turísticos (a “fordização” do turismo). Em 1891, a American Express
cria o primeiro sistema de cheques de viagem em larga escala, facilitando as
transacções económicas (globalização).
Em 1931, em Atenas, realiza-se o primeiro
congresso internacional dedicado à conservação artística e histórica de
monumentos. Entre guerras, o interesse pelo património é renovado pelo
ressurgimento dos nacionalismos autoritários. Património e turismo aparecem
unidos, o primeiro como símbolo de identidade nacional e o segundo como veículo
de disseminação do primeiro às massas. Nas palavras de António Ferro,
responsável pelo Secretariado da Propaganda Nacional “O turismo perde, assim, o
seu carácter de pequena e frívola indústria para desempenhar o altíssimo papel
de encenador e decorador da nação” [6].
Surgem nesta altura as primeiras colónias de férias acessíveis ao proletariado
como os Butlins (de iniciativa
privada), em Inglaterra, ou a gigantesca estância balnear de Prora (de iniciativa estatal), na
Alemanha. Apesar do clima económico desfavorável criar uma quebra nos números
de turismo, este beneficia da popularização do automóvel, do surgimento das
primeiras redes de auto-estradas e da abertura das primeiras rotas aéreas
regulares de passageiros.
Democratização: 1945 – 1970
A grande aceleração e expansão quer de turismo, quer de
património, dá-se após a 2ª Guerra Mundial. Estabilidade social, prosperidade
económica e boom demográfico, aliados
à necessidade de reconversão da economia de guerra, dão origem ao nascimento da
cultura do ócio no mundo ocidental. Uma classe média, incentivada por uma série
de iniciativas legislativas (menor horário de trabalho, maiores períodos de
férias, mais apoios sociais) e pelo recém-adquirido poder aquisitivo, começa a
interessar-se por viagens. Tal fez com que se banalizasse o carro, se tornassem
mais acessíveis as viagens de avião (voos charter) e vulgarizasse o barco de
cruzeiro.
Este período é decisivo tanto para o turismo
e para o património como para a ligação umbilical dos dois através do consumo
cultural. É nos anos 60 que, em França, através de André Malraux, a expressão
património adquire o significado que hoje lhe conhecemos. Citando Choay: “o
grande projecto de democratização do saber, herdado do Iluminismo e reanimado
pela vontade moderna de erradicar as diferenças e os privilégios do usufruto
dos valores intelectuais e artísticos, a par do desenvolvimento da sociedade de
lazer e do seu correlativo, o turismo cultural dito de massas, estão na origem
da expansão talvez mais significativa, a do público dos monumentos históricos” [7]. O Ministério da Cultura Francês que Malraux dirige, faz
de França pioneira da política cultural liberal de Estado oferecendo à “Europa
o modelo jurídico, administrativo e técnico” [8].
Esta visão ocidental estabelece-se progressivamente como
predominante/hegemónica, culminando na assinatura da Carta de Veneza, em 1964.
É durante este período que é constituída a UNESCO e que são feitas as primeiras
campanhas internacionais para a salvaguarda de património histórico como em Abu-Simbel.
Informatização: 1970 – 1990
Na década de 70 o turismo decresce fruto da crise
energética, a primeira grande crise do capitalismo desde do crash de 1929. O dólar torna-se moeda
flutuante. Durante estes anos de abrandamento inicia-se o processo global de patrimonialização com a assinatura da
Convenção do Património Mundial (1972) Comité do Património Mundial (1976) e a
inscrição dos primeiros sítios na Lista do Património Mundial (1978).
A década seguinte dá novo fôlego ao
capitalismo ocidental com a desregulação progressiva dos mercados financeiros e
a informatização em larga escala (primeiros computadores pessoais). Dá-se
início ao processo de internacionalização das grandes empresas hoteleiras e dos
maiores operadores turísticos. Surgem o TGV e os novos aviões comerciais, ao
mesmo tempo que, em 1980, se dá assinatura da Declaração Mundial do Turismo de
Manila, afirmando o turismo como essencial à vida das nações quer a nível
social, cultural e educacional, quer nas suas relações internacionais com
outros países.
Virtualização: 1990 – dias de hoje
Na década de 90 assiste-se ao nascimento do verdadeiro
mercado global, à queda do comunismo, à solidificação das redes de comunicação,
à ascensão da televisão global e ao advento tecnológico da internet. O turismo
beneficia desta nova consciência global, bem como das políticas que fomentam o livre-trânsito
de pessoas (Tratado de Maastricht em 92 e Acordo Schengen em 97). As viagens de
avião tornam-se progressivamente mais acessíveis e mais frequentes graças às
companhias low cost e à liberalização
da gestão dos aeroportos.
O 11 de Setembro (2001) e a crise do sub-prime (2008) constituem-se como quedas temporárias numa
trajectória ascendente e contínua dos números do turismo, uma das únicas indústrias
com lucros e taxas de crescimento inalterados pela depressão económica. Tal faz
crescer a dependência económica de cidades e países em crise, onde o turismo
passa a ser visto como tábua de salvação.
No mesmo espaço de tempo populariza-se o GPS e o Google,
ao passo que os telemóveis tornam-se de minicomputadores, massificando o uso da
fotografia e a ininterrupta ligação à internet. Entretanto as redes sociais
substituem os meios clássicos de divulgação turística, contribuindo para a
diversificação do turismo numa infinidade de sub-segmentações. Do turismo
médico ao turismo de guerra, do turismo LGBT ao turismo sexual.
No campo do património as classificações
multiplicaram-se várias vezes em número, encurtando progressivamente o espaço
de tempo entre construção e classificação. Simultaneamente foram-se criando
mais categorias patrimoniais nacionais e internacionais, abrangendo um universo
de criações humanas cada vez mais vasto. Exemplo disso é a assinatura da Convenção
para Salvaguarda do Património Cultural Intangível (2003) e a criação da Lista
do Património Cultural Intangível (2008). Este património imaterial abrange
coisas tão díspares como folclore, tradições orais e até, criações digitais.
Jenny Holzer, The Survival series, Protect Me From What I
want, 1983-1985.
Nostalgia-Tecnologia
“Assim é o turismo, nascido vinculado à morte,
convertendo o mundo num museu, uma cidade fantasma de que (os turistas) são
coleccionadores de vestígios.” [9]
Escalpelizando o presente, revisto o passado, interessa
vaticinar o advir do turismo, do património e da sua dialéctica. Comprovamos a
relação umbilical entre turismo e património. Vimos como os dois conceitos
foram forjados sobre a égide da Civilização
da Imagem, substituta da Civilização
da Palavra. Vimos como as evoluções tecnológicas, politicas e sociais
fizeram transitar os dois conceitos, da área da cultura do conhecimento para a
do consumo de massas. Da união improvável entre as aspirações sociais
igualitárias e a ânsia de lucro económico nasceu um novo paradigma de relação
com os monumentos históricos e as viagens enquanto produtos de consumo
cultural. “O museu imaginário de André Malraux não é apenas o princípio de um
ilustrado populismo da cultura, como abre também o recinto sagrado do artístico
à multiplicação das visões” [10]. A visão unilateral de uma
elite cultural (transmitida de cima para baixo) é substituída por uma visão
múltipla em que todos os intervenientes estão em igualdade. Esta nova visão
múltipla assenta no poder de mediação das imagens. Os objectos, descontextualizados
“da sua substância cultural inicial (...) convertem-se basicamente, em imagens”
[11]. A democratização do acesso à fotografia fez com que
esta se tornasse o meio preferencial de apropriação dos objectos culturais e
das vivências humanas. No entanto, esta apropriação é apenas ilusoriamente mais
pessoal, pois os média encarregam-se de forjar uma certa educação visual
através da repetição constante de imagens via televisão, cinema ou publicidade.
É a estandardização, sincronização e mundialização do olhar e dos afectos.
Estes processos criam e decorrem numa temporalidade nova que Paul Virilio
designa por “tempo acidental”, um tempo instantâneo e inabitável criado pela
aceleração/compressão do espaço-tempo, ditada pela tecnologia e do qual o
turismo é factor acelerador. A sucessão destes fragmentos sucessivos de tempo
cria uma noção de transhistória, onde
o património é alojado, despojado de qualquer qualidade particular e reduzido a
imagens. A sobreestimulação, a simultaneidade, a ubiquidade e complexidade do
edifício de superestruturas económico-sócio-culturais que criamos são tais que
se tornam de impossível entendimento para o Homem, fazendo-o delegar
progressivamente na máquina a interpretação das suas vivências. Esta
progressiva falta de capacidade de compreensão intelectual e de ligação
emocional efectiva, criada pela associação entre velocidade e quantidade de
informação, condena as políticas patrimoniais a aproximarem-se da lógica do
Parque Temático. A autenticidade, já pouco distinguível, é perdida em favor do
simulacro. O Parque Temático Patrimonial, através de tecnologias de hiper-realidade
e de bem oleadas técnicas de psicologia do consumo, consegue servir uma versão
de património simplificada mas entendível.
A reincarnação do património enquanto Parque Temático,
que já em parte habitamos, é apenas um estádio intermédio antes da dissolução
do mesmo. A classificação patrimonial de cada vez mais criações (quer humanas,
quer naturais), cada vez mais rápida e em domínios cada vez mais vastos, é disso
sintoma. Classificamos e conservamos para arquivamento e memória futura,
impelidos simultaneamente pela consciência clara da nossa capacidade de
destruição total e da nossa total incapacidade para a deter. O processo de patrimonialização é uma catalogação para
a extinção.
O turismo cultural, exploração económica da
nostalgia, tenderá também ele a desaparecer à medida que a sociedade vá
trocando memória humana pela memória artificial, pedras por bytes, real por
virtual, substituindo nostalgia por tecnologia.
___
Referências
1. Paul Virilio, “Cyberwar, God and Television:
interview with Paul Virilio”.
2.“Como
vai ser paga a taxa turística?” in
Observador , 11/11/2014.
3.
Françoise Choay, Património e
Mundialização, p.24.
4.
Françoise Choay, Alegoria do Património,
p.221.
5.
Ibidem, pág. 222.
6.
António Ferro, “Turismo, fonte de riqueza e poesia”.
7.
Françoise Choay, Alegoria do Património, p.225.
8.
Idem, pág. 223.
9.
Alexandre Alves Costa, Património e Turismo,
Ciclo de Debates, 1999, p.21.
10.
Ignasi de Solà-Morales, Territorios,
pág.201.
11. Idem, pág.198.
___
Cibergrafria:
http://www.publico.pt/local/noticia/porto-uma-cidade-cada-vez-mais-acolhedora-e-hospitaleira-1663093
___
Imagem de capa
Turistas sentados numa mesa na Praça de São Marcos,
durantes cheias em Veneza, em 2012. Foto: Associated Press.
___
Rui Gilman
Porto, 1982. Licenciado em Arquitectura pela Escola
Superior Artística do Porto, frequentou o Curso de Estudos Avançados em
Património na FAUP, criador e locutor do programa de arquitectura
"cidadesINdiziveis" na Radio Manobras.