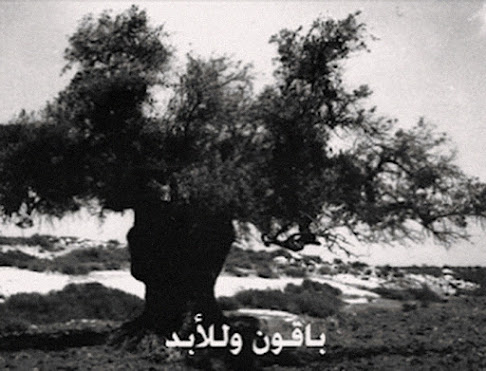___
Dionora. Para uma
Arquitectura Menor
Patrício del Real
Não deve surpreender-nos que num mundo
assim, onde os mais belos jovens tinham sido reproduzidos nus e num tamanho
gigantesco, por todos os lados, se desencadeasse uma virulenta febre de ninfomarmáticos
e ninfomarmóreas.
Reinaldo Arenas
Dionora domina o terraço do seu
edifício. Há muito já que se mudou para a açoteia de uma antiga construção de Habana
Vieja: "Fui a primeira moradora", diz com uma voz forte e segura,
"deste 'palácio', antes da Revolução" - em Havana, todas as casas
velhas se transformam em palácios. Ostentando uma atitude senhorial, conta como
"alargou ao terraço" o seu espaço "depois de a moradora se ter
ido embora do país". Defensora das conquistas da Revolução, admite também
os seus malogros, mas adverte-me que não pense que o estado ruinoso do edifício
se deve à negligência, que não vá dizer "lá fora" que o que aqui se
vê é sinal de um fracasso colectivo. Dionora é combativa; vive há muito tempo
já uma batalha quotidiana: litígios com os vizinhos devidos às infiltrações
constantes; negociações no mercado negro enquanto procura materiais para
prosseguir a sua expansão permanente sobre as açoteias de Havana. Dionora
combate para conservar o seu pequeno estado matriarcal. Embora defendida por um
sistema legal e ético, Dionora luta contra uma cidade colonial que está a ser
objecto de saneamento e posta ao serviço do turismo internacional desde que foi
declarada pela UNESCO, em 1982, Património da Humanidade. As recentes
transformações do Estado cubano, a legalização da propriedade privada em finais
de 2010, com o objectivo da inserção do espaço urbano num mercado imobiliário
nascente, geram novos conflitos para aqueles que, como os construtores de barbacoas [i] vivem intensamente o património
histórico da nação cubana; por detrás das pressões do mercado internacional
perfila-se a geografia económica nacional e consolida-se a imagem do
"cubano" através de uma arquitectura colonial consumida por turistas.
No Rio de Janeiro, a batalha pela cidade
assumiu dimensões olímpicas. Recentemente, o presidente do Comité Olímpico
Internacional, Jacques Rogge, reclamou a "urbanização" das favelas do
Rio. Rogge declarou que um grande investimento em infra-estruturas seria
qualquer coisa de "fantástico" [1]. Por detrás da soma delirante,
calculada em mais de cinco mil milhões de dólares, de um projecto fantasista,
esconde-se o ditame de urbanizar - ou seja, de produzir um sujeito urbano. Os
recentes projectos de arquitectura e urbanismo no Rio revelam uma cidade
sequestrada pelo Olimpo, na qual os mecanismos internacionais são usados para
expulsar ("relocalizar", na boa gíria burocrática) sujeitos
incivilizados em operações menos espectaculares do que as recentes incursões
paramilitares em favelas transformadas, através da imprensa e da televisão, em
baluartes do tráfico internacional de drogas. Os construtores de favelas já não
têm apenas de combater quotidianamente situações e organismos locais; hoje,
é-lhes necessário ainda inserirem-se em circuitos internacionais e defenderem,
através de organismos como a Organização dos Estados Americanos, reivindicações
locais, não esquecendo que tais instituições possuem os seus próprios
mecanismos de ofuscação [2]. A situação relocalizou as favelas do
Rio, uma vez que o olhar internacional as deslocou para o sector dos desportos.
A visão das favelas, apresentada nas páginas internacionais e de desporto,
produz uma ofuscação populista entre espectáculos de violência real e violência
ritualizada. Este modo de apresentar a questão, que tenta conter e localizar o
problema como sendo o da existência de focos de intensidade urbana malsã,
faz-nos esquecer que é o sujeito urbano, que Rogge deseja, que materializa o
tráfico de drogas, e que as supostas redes internacionais têm a sua contrapartida
nos consórcios internacionais das empresas farmacêuticas que possibilitam os
escândalos olímpicos do doping.
"You don't need these", dizia
Encarnación num inglês refinado aos agentes da polícia da cidade de Nova York;
"não faço mal a ninguém", continuava, entregando-lhes as algemas que,
deslizando, lhe tinham caído das mãos pequenas. Há mais de dez anos que
Encarnación vende tamales a um dólar em Harlem, a trabalhadores, a estudantes,
ao autor deste texto, a menos de um quarteirão de distância de um McDonalds, onde se fala espanhol.
Encarnación vivia no Estado de Guerrero, no México, "com um telhado de
folhas de palma e paredes de adobe", e, como muitos, veio para os Estados
Unidos para melhorar a vida dos que ficaram no seu país [3]. Encarnación também melhorou Harlem; a sua pequena banca
móvel (um carrinho de supermercado) à boca da estação de metro, junto a um
pequeno parque, acabou por desenvolver ao longo de muitos anos uma pequena zona
comercial efémera, onde, dependendo do dia e do tempo, se podem encontrar
fruta, flores, bijutaria e até mesmo artigos de segunda mão. Esta forma de
pressão sobre o uso correcto e oficial da cidade provocou a acção policial
directamente sofrida por Encarnación, mais como um aviso destinado a lembrar
quem realmente manda do que da efectividade de um poder que tem de negociar com
uma economia estratificada e, assim, usar múltiplas estratégias de cooptação.
As acções urbanizadoras da polícia de Nova Iorque não são tão espectaculares
como as do Rio - as detenções efectuadas pela polícia da cidade são, em geral,
bastante silenciosos. Menos violenta ainda é a política oficial de beneficiação
estética da cidade (Arts in the Parks
Program), que instala, temporária mas ruidosamente, esculturas nos parques
da cidade, urbanizando assim uma cidade já urbana e que, em certas ocasiões, se
sobre-urbaniza. As ovelhas de bronze do escultor Peter Woytuk, que disputam
agora com Encarnación o pequeno parque, não serão, sem dúvida, detidas [4].

1. “Par de Ovelhas”,
Escultura de bronze. Peter Woytuk na Broadway, Harlem, Nova Iorque (Via Flickr).
Em Havana, Rio de Janeiro
e Nova Iorque, nestas três cidades tão diferentes, como em tantas outras,
entretecem-se relações de poder no espaço urbano que desdobram um leque de
desejos locais e internacionais, sob uma globalização que mobiliza e põe a
produzir todos os estratos sociais e económicos. Pequenas acções, como vender
um tamal a um dólar, mobilizam
estratégias que revelam mercados paralelos em Nova Iorque (evitemos andar por
aí a dizer que o mercado negro só existe no Terceiro Mundo), que, como em
Havana ou no Rio, melhoram um certo número de vidas. O desejo de uma vida
melhor transformou-se num imaginário colectivo que, nas suas pulsações globais,
transcende qualquer geografia. As infiltrações contra que Dionora batalha na
sua açoteia, manifestam um mundo de fendas através do qual a informação se
globaliza e se democratiza. Este uso intenso do espaço urbano revela uma cidade
conectada, articulada em redes internacionais, tanto legais como alheias à
realidade oficial, activadas por um sujeito local que navega essas intensidades
segundo os seus desejos e necessidades, produzindo múltiplas cidades dentro e
fora dela. A cidade é uma zona de contacto intenso e expansivo onde o desejo
encontra a sua forma. Surge aqui uma clara contradição, porque a intensificação
dos contactos e a expansão das redes manifestam uma heterogeneidade que
fragmenta a totalidade implícita na ideia de cidade. É, portanto, necessário
falar, não de cidade, mas de cidades.
Esta necessidade de falar no plural, assinalada há já algum tempo por Michel de
Certeau, entre outros, e de romper com a ideologia da universalidade na qual se
esconde ainda a táctica de reduzir "o outro", continua a ser um
obstáculo para os que tentam articular meta-geografias, como a que a noção de Ibero-América supõe. Esta noção, e a
relação histórico-cultural iniciada pela colonização espanhola e portuguesa a
que a noção implicitamente se refere, articula um território possível de
diferença e resistência, mas que se dilui com Encarnación, que articula outra
comunidade, que não é só aquela que vive nos Estados Unidos, mas a que vive nos
fluxos migratórios de uma força de trabalho "liberalizada". Inserir
trabalhadores deslocados no quadro de geografias culturais particularistas
parece ser um acto comprometedor, uma vez que os nigerianos na Península Ibérica,
que não participam dos benefícios culturais de uma ideologia
ibero-americanista, por exemplo, sofrem do mesmo modo que os equatorianos que
hipoteticamente poderão mobilizar uma suposta cultura comum como se fosse uma
carta de chamada. A mobilização do termo e da ideia de uma comunidade
ibero-americana pode ser um acto de reivindicação, mas a ideia esconde uma
consagração implícita de valores e tradições que reclamam unidade de espírito e
transformam a história e a cultura em essências, por mais que as fragmentemos
em pluralidades. A noção de Ibero-América depende da ideia de território; esta
convergência entre espírito e território manifesta-se hoje como sintoma de
retracção e alargamento do Estado frente ao mercado internacional. Deve ter-se
presente que o imaginário luso-tropicalista do brasileiro Gilberto Freyre, que
serviu para exaltar as bondades do colonialismo e da ditadura num momento de
debilidade democrática no chamado Terceiro Mundo, serve como advertência
perante qualquer meta-geografia que insista em articular oposições e exclusões.
Creio ser hoje mais importante falar de uma rede de cidades do que de
territórios, uma vez que a crescente urbanização agenciada actualmente pela
expansão do mercado internacional reclama de nós novos imaginários geográficos.
A chamada comunidade transnacional ibero-americana exerce as suas próprias
exclusões, e se há alguma coisa que da globalização devamos recuperar, é
precisamente a sua força de inclusão. Assim, devemos menorizar a Ibero-América.

2. Biblioteca de Espanha
no Bairro de Santo Domingo, em Medellin, Colómbia. Projecto de Giancarlo
Mazzanti, 2005-2007 (via wikipédia)
Hoje, ranchos como os de Caracas [ii], que antes não figuravam nos mapas, são cadastrados e incorporados na
cidade; no Rio de Janeiro, pode fazer-se um circuito turístico pelas favelas;
as barriadas de Lima integram-se
plenamente no mercado imobiliário, de acordo com o ideário do economista
peruano Hernando de Soto. As acções de uma "linguagem imperial" de
"urbanização" passaram ultimamente a tomar por objecto lugares
anteriormente inexistentes, excluídos ou demonizados. A cidade é rearticulada
hoje enquanto corpo orgânico, quer dizer, como um total diferenciado, não
desprovido de conflitos, mas necessariamente funcional sob a globalização. Esta
rearticulação, ainda em processo, manifesta-se a diferentes escalas. Em Bogotá,
Caracas e Rio, os bairros pobres de Santo Domingo, San Agustín e Alemão
respectivamente, foram incorporadas no tecido urbano através de elegantes teleféricos,
e, em certos círculos de arquitectura da Ibero-América, encontramos um
interesse pontual e renovado pelos processos ditos informais, que dão origem a
favelas, ranchos, villas miserias, barbacoas,
barriadas, tapancos, chabolas, pueblos jóvenes, shanty towns, slums, bidonvilles,
etc. Estabelecem-se assim momentos de contacto, de fascínio e de desejos, entre
o marginal e a arquitectura.
A constante luta dos habitantes das
favelas do Rio de Janeiro esforçando-se por melhorarem as suas vidas é uma
fonte de admiração e estupefacção para arquitectos que propõem intervenções
críticas e para ateliers de escolas de arquitectura que tentam introduzir novos
temas, com o objectivo de promoveram a renovação de uma disciplina já
comprometida com o poder e de uma profissão cega por uma espectacularização sob
a tutela dos star architects. Das
condições extremas - extremadas pela intensidade daqueles que as vivem e pela
distância daqueles que não a sofrem -, os arquitectos recuperam um agenciamento
inventivo do presente e do agora, executado por sujeitos marginais investidos
de uma certa inocência e de uma criatividade intensa. O desdobrar-se de
estratégias construtivas ad hoc, deste
bricolage material e produtivo,
solicita o interesse e a admiração, e mobiliza um estranho humanismo que
reclama a nossa compaixão e a nossa inveja, revelando a profunda transformação
conceptual que os ranchos sofreram. Se antes as villas miserias eram cancros a ser extirpados, são hoje imaginados
como padrões urbanos alternativos, construções sociais de onde emergem
propostas vernaculares de um "lugar" possível contraposto ao espaço
abstracto da cidade moderna. Hoje os processos de construção das barbacoas revelam novos procedimentos de
projecto para uma arquitectura sobrecarregada pela tecnologia e reduzida à
subjectividade do seu autor. Nestes espaços marginais, alguns descobrem um
processo de construção de comunidade enquanto acto social reivindicativo e
processo de projecto de resistência; aos dois níveis, social e pessoal, surge
aqui como que uma alternativa aos discursos hegemónicos da globalização. A
sedução em causa não é nova, possui uma já longa tradição, que, desde o século
XIX, tenta reintegrar uma tradição enraizada nas forças descontextualizantes da
modernização: trata-se da luta que encontramos em Dionora, quando, armada com
baldes de cimento e pequenas vigas de ferro, madeiras e pás, menoriza a
subjectividade de género do "construtor", que a própria linguagem
prefigura como sujeito masculino. Como já observou a crítica Eve Kosofsky
Sedgwick, dos Estados Unidos, a recuperação do não-oficial liberta um fluxo de
desejos escondidos. As incursões paramilitares nas favelas do Rio revelam os
complexos combates de género de um lugar já altamente politizado. As
intervenções dos arquitectos nos ranchos desarticularão os desejos de
masculinidade da arquitectura?
A dualidade persistente
entre tradição e modernidade foi forjada na arquitectura por um modernismo que
desejava ser a linguagem oficial do moderno. Os bairros degradados não podem
ser reduzidos a sonhos românticos, a espaços vernaculares de sociabilidade
pré-capitalista, numa tentativa visando reproduzir lugares de resistência ao
mercado internacional; também não podem ser reduzidos a espaços de um
capitalismo selvagem dominados e espectacularizados
pela violência; não são lugares de resistência ou espaços de violência, mas
constituem âmbitos nos quais descobrimos resistências e violências; por outras
palavras, são lugares reais e actuais, não imagens para deleite ou horror de um
consumidor afectuoso ou hostil, embora nos dois casos igualmente distante.
Neste sentido, qualquer tentativa de articular uma relação entre uma urbanidade
intensa de emergência e uma arquitectura emergente na Ibero-América requer a
identificação de um momento de inflexão histórica. A valorização de espaços
produzidos à margem, ainda que sempre ligados ao mercado, à cidade, à
arquitectura, marca a nossa particularidade histórica. Trata-se de uma postura
sintomática de um mundo heterogéneo, e também de uma mudança cultural, em que
já não vemos, nas suas vastas extensões urbanas, o "atraso da nação",
como se dizia nos anos 50 a propósito dos
ranchos de Caracas, mas o seu futuro. A capitalização da cidade tornou-se
extensiva; mas se se valoriza a experiência vivida pelos residentes dos bairros
pobres, se se valorizam os processos de construção, o uso dos materiais que
aponta para uma criatividade do sujeito marginal, devemos perguntar também onde
terminam os contornos desta valorização. A coincidência dos valores de mercado
e dos valores produzidos nos ranchos
está ainda em gestação. As narrativas anteriores, que descreviam a injustiça
social no interior de um quadro nacional de cidadania, são hoje reformuladas no
quadro da economia, duplicando-se a todos os níveis, da gestão dos recursos
naturais (ecologia) à correcta administração do doméstico (oeconomia) e do pessoal.

3. Small Scale, Big Change: New Architectures of
Social Engagement (October 3, 2010–January 3, 2011), Moma. Página web da
exposição.
É importante, por isso, perguntar que
valores hoje aqui descobrem os arquitectos. A obra persistente de Jorge Mario
Jáuregui - insistindo durante quinze anos sobre as favelas do Rio através do
Programa Favela-Bairro - obteve ressonância e constituiu-se como modelo para a
Ibero-América. Trata-se, contudo, de um trabalho que causa também
desorientação, uma vez que, sem menosprezo da magnífica e necessária obra
realizada, depende da figura do arquitecto como profissional-especialista que
reconcilia os desejos dos moradores dos bairros com o poder. A capitalização da
arquitectura social, embora não completamente consolidada, efectuou-se já na
Sétima Bienal de Veneza sob o título Less
Aestethics, More Ethics - Menos
estética, mais ética, e, mais recentemente, no Museu de Arte Moderna de
Nova York, com a exposição Small Scale,
Big Change. O que estou a tentar articular aqui são os limites tanto do
fascínio que hoje exerce sobre os arquitectos a necessidade sofrida pelos
construtores de tapancos [iii] como os limites de um olhar que responde a uma pergunta
tautológica, uma vez que, nesse fascínio e nesse olhar, os arquitectos ou se
descobrem a si próprios, ou se descobrem arquitectos "menores", e deparamos
aqui com um impasse. A pergunta é unidireccional - de quem olha quem - tentando
abrir assim um espaço teórico. Porque aquilo que importa, se quisermos
continuar a reclamar benefícios das barracas, não é vermos como os construtores
de pueblos jóvenes [iv] são arquitectos em ponto pequeno, mas como as suas acções
menorizam a arquitectura. É fácil descobrir arquitectura nas shanty towns [v], mas é mais difícil descobrir shanty towns na arquitectura. Proponho que retomemos o processo de
capitalização efectuado em Veneza, no sentido em que o limite da valorização
das favelas - quer dizer, o que não se trata de valorizar nas favelas - deve
ser precisamente a estética que exibem. Daí que, em Veneza, se tenha insistido
mais na ética, a fim de prevenir o colapso da arquitectura sob os seus próprios
valores estéticos.
As recentes e magníficas
arquitecturas de Bogotá e de Medellín - como, por exemplo, a Biblioteca España de Giancarlo Mazzanti,
na segunda destas cidades - abrem um diálogo complexo que mobiliza os
contrastes: uma clara estética arquitectónica de elite sobrepõe-se à estética
convulsa do slum [vi] de Medellín. Articula-se assim uma arquitectura cívica de
elevado valor, tanto financeiro como estético. Em Santiago do Chile, Alejandro
Aravena, com o concurso das soluções de construção ELEMENTAL, integra
estratégias de crescimento gradual, incorporando assim uma temporalidade
presente nos bidonvilles e
estratégias de construção elaboradas durante a década de 1950, por exemplo, no
Norte de África sob o regime colonial francês. Mas o que importa é perguntar se
as estratégias e os discursos fluem nas duas direcções: quer dizer, se podemos
descobrir na arquitectura de Aravena ou de Mazzanti essa informalidade que hoje
exerce tanto fascínio; descobrir os ranchos nas Torres Siamesas do Campus San
Joaquín da Pontificia Universidad Católica do Chile; se podemos descobrir as villas miserias num dos bastiões do
poder na Ibero-América; se a estética da emergência aparece na arquitectura
ibero-americana emergente - uma arquitectura que começa a transbordar do seu
limite geográfico, não como curiosidade do momento, mas como arquitectura
menor.

4. Conjunto habitacional Quinta
Monroy, Chile, Elemental, 2003-05. Fotografia Cristóbal Palma (Elemental).
As incursões de arquitectos nas barbacoas menorizaram a arquitectura. A
polivalência material, a utilização de diversos materiais tradicionalmente
precários, como o tijolo e a madeira; a revalorização dos processos de
construção informais ou primitivos, como o adobe - como na Escuela de Artes
Visuales de Oaxaca, no México, de Mauricio Rocha -, revelam as atitudes da
arquitectura emergente. A preferência por estratégias informais é condicionada
por uma tendência já bem estabelecida para a experimentação material em arquitectura.
Assim, a articulação material não é necessariamente uma menorização da
arquitectura. Talvez seja, portanto, mais produtivo tornarmos a insistir no
campo da estética, uma vez que a estética de elite resiste a incorporar a
emergência. Se examinarmos a produção arquitectónica que se contém na casa
unifamiliar da Ibero-América, descobriremos que nada nela emerge. A casa
unifamiliar revela-se como o grande baluarte de uma classe social
tradicionalista hoje protegida por um cuidado e sufocante minimalismo estético.
As múltiplas versões daquilo a que podemos chamar "a gaiola" de
vidro, cimento ou madeira - muitas vezes desvirtuada por combinações de
materiais ou geometrias decorativas postiças - exprimem o tédio, a leviandade
intelectual e a ausência de valores comunitários dos seus proprietários. Estes
cubículos da versão estética oficial, espaços de abstracção minimalista, são
máquinas de fuga potenciadas pelos arquitectos - pois, quem desejará viver num
estado de constante fragmentação como o das barriadas?
Mas são também espaços de poder, onde se reproduzem os valores de uma sociedade
desigual e tradicionalista no pior sentido da palavra, como é o caso com o
ainda muito vincado paternalismo da região. O elitismo que circula com
insistência nas revistas de arquitectura e a compartimentação das construções
informais no interior de uma emergência que não vê a sua contribuição estética,
não fazem mais do que confirmar que a região continua a ser a mais desigual do
mundo. Após as repetidas incursões no mundo da informalidade, a arquitectura na
Ibero-América não foi capaz de articular um projecto coerente de arquitectura
menor. E se a incursão nas favelas radica somente na capitalização de uma
economia de valores imobiliário e humanitário, reduz-se consequentemente a
valorização e o efeito saudável que aquelas podem ter sobre uma arquitectura
que depende ainda da estética do poder.
Mas a resposta não está
nem nos proprietários, defensores dos seus próprios interesses, nem nos
arquitectos, porque ao fim e ao cabo o simples construir já é suficientemente
difícil: o problema radica na ausência da crítica da arquitectura - mas que
arquitecto ou proprietário deseja que a sua obra e o seu investimento
financeiro e estético seja desvirtuado por subtilezas intelectuais que, embora
também difíceis de construir, a poucos interessam? Não devemos esquecer que só
o meritório merece ser criticado, pois o que interessa é a crítica produtiva, a
crítica que trabalha. Como tantas outras casas difundidas por revistas
ibero-americanas, a elegante Casa Poli dos arquitectos Pezo von Ellrichshausen (PvE), instaura, numa falésia da
costa chilena, a convergência de uma casa de férias com um centro cultural,
que, como um cubo caído do céu, tenta fazer esquecer o preço ecológico que
estas arquitecturas implicam - não só devido aos processos de construção que
alteram o ambiente, mas também, e em primeiro lugar, pela contaminação
abstracta que a sua capitalização estética exerce sobre o quadro natural. A
estética da paisagem, tão elegantemente elaborada pela equipa chileno-argentina
de arquitectos através das elegantes vistas sobre o Oceano Pacífico que
perfuram o cubo, articula uma manipulação visual que insiste na definição
artístico-estética da palavra paisagem
- uma definição que esquece por força a sua relação com um terreno que o
camponês trabalhou arduamente, sem contemplação, mas com a sua própria
naturalidade estética. O império do visual desdobra-se na imagem, produzindo
uma arquitectura facilmente capturada pelas revistas. A estética do camponês já
foi capturada pelo romantismo no século XIX, e hoje, na Ibero-América, resiste
a esta nova forma de incorporação.

5. Casa Poli, Pezo von
Ellrichshausen, 2003-2005. (PvE)
A partir da convergência
entre o visual e o terreno, do confronto entre a paisagem e o camponês, da
união entre o olhar do autor e a mão da sua antítese, do contraste máximo entre
a obra na falésia dos arquitectos PvE e a açoteia de Dionora, podemos elaborar
uma tentativa de arquitectura menor. Devemos começar por recusar qualquer
tentativa de definir as favelas como arquitectura, uma vez que essa
incorporação discursiva esconde a
hierarquia operacional de valores estéticos ainda bem instalada na
arquitectura, e desarticula qualquer tentativa possível de elaborar uma
arquitectura menor, uma vez quer, se seguirmos Deleuze, ela só poderá ser a
prática menor no interior de uma linguagem maior. Se considerarmos a produção
construtiva por volume da cidade ibero-americana, veremos que são os
arquitectos que produzem a menor quantidade de estruturas e de espaço
construído da cidade, enquanto são os construtores dos bairros que produzem a
maior parte. Assim, a operacionalidade da arquitectura como linguagem a
menorizar radica principalmente em acções críticas sobre os seus valores
estéticos - quer dizer, na sua relação com o poder, ou, como diriam os
modernistas brasileiros, com a bão
tradição, com essa tradição que delineia os contornos da boa sociedade. Se
os arquitectos podem aprender alguma coisa com os construtores de favelas é o
modo como estas permanecem frágeis, sem que isso seja fraqueza: a fragilidade
construtiva que faz da favela uma obra em surgimento constante é qualquer coisa
que os arquitectos começam já a incorporar, ainda que de modo insuficiente.
Estando em construção permanente, as barriadas
exibem as suas contradições à flor da pele e revelam uma construção estética
colectiva, uma montagem expressiva sem autor a que a arquitectura resiste. O
caminho a percorrer é difícil, uma vez que a ideologia do estilo unitário e
representativo da mão do "arquitecto" como criador singular e
autoritário está tão enraizada que um artefacto tão complexo como um edifício,
um artefacto que requer uma equipa de pessoas e profissionais, precisa ainda de
ser identificado e reduzido a um único arquitecto. Objectar-se-á que, sem esta
força homogeneizadora e controladora o resultado seria uma vaga desordenada de kitsch numa sinfonia sem tom nem
harmonia. Talvez, mas temos de nos dar conta de que, por detrás de tais
argumentos contra a dissonância e a heterogeneidade, se esconde a produção de
simples objectos de consumo imediato, de uma arquitectura capitalizada pelo
mercado e não por arquitectos.
___
Notas da tradução
i. As barbacoas — por
vezes consideradas como "favelas interiores" — são plataformas ou
tablados construídos aproveitando os "pés direitos" muito altos de
velhas casas, cujo resultado é subdividir e reordenar os espaços interiores,
fornecendo alojamento a um grande número de elementos da população de Cuba.
ii. Um rancho,
na Venezuela, é uma construção improvisada, utilizando materiais usados e
pobres, como as que encontramos nos chamados "bairros de lata". Este
tipo de construção proliferou em Caracas, sobretudo a partir da década de 1960
v. Bairro precário e muitas vezes clandestino, como o
"bairro de lata", o bidonville,
os pueblos jóvenes, a favela, a barriada, etc.
vi. Ver
a N.d.T. anterior
___
Referências
___
Nota de edição
Este
artigo faz parte do Dossier «Devir
menor»
coordenado por Susana Caló e publicado na íntegra no Punkto. Foi publicado originalmente
na Revista
Lugar Comum, 41, Brasil, Universidade Nômade.
Tradução do espanhol por Miguel Serras Pereira
___
Patrício del Real
Realizou o
doutoramento em História da Arquitectura e Teoria na Universidade de Columbia
em Nova Iorque e o mestrado em Arquitectura pela Universidade de Harvard. É co-editor
da antologia Latin American Modern
Architectures: Ambiguous Territories, publicado pela Routledge, 2012, e
actualmente trabalha no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.